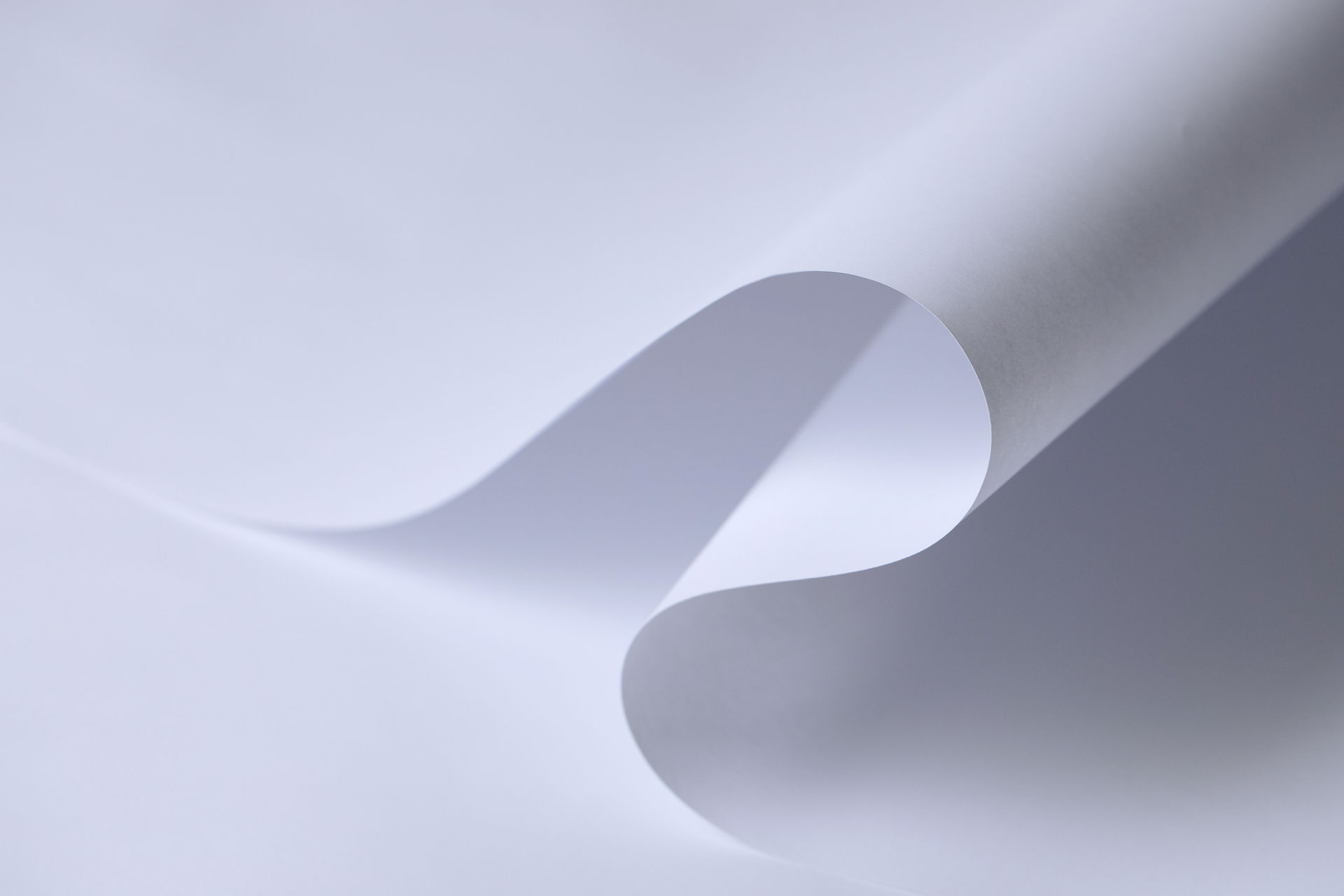
Tatiana Zylberberg
.jpeg)




A indicação para participar desta homenagem do CBCE chegou como um resgate profundo.
Como mulher, professora-pesquisadora-professora fiquei diante do que me moveu para existir, resistir e lutar por uma sociedade mais justa, solidária e humana.
Escolhi escrever para cuidar de cada milésimo de segundo.
O Conbrace de 2021 ficará na minha pele como o encontro virtual mais presencial que pude experimentar.
DISCURSO NA CERIMÔNIA DE HOMENAGEM
CONBRACE - 15 de dezembro de 2021
Escolhi escrever para cuidar de cada milésimo de segundo.
A indicação para participar desta homenagem do CBCE chegou como um resgate profundo. Como mulher, professora-pesquisadora-professora fiquei diante do que me moveu para existir, resistir e lutar por uma sociedade mais justa, solidária e humana.
Quando eu tinha dois anos de idade, meu pai foi de um lado para o outro, com cartas médicas que descreviam sintomas estranhos e desconhecidos no meu corpo. Quando a adolescência chegou, a sequência de idas e vindas ao pronto socorro ficou ainda mais (in)tensa. Fui submetida a inúmeros exames de imagem, injeções, soros e tomei remédios prescritos para engolir a dor que gritava de forma repetida e sem respostas científicas. Tive a minha primeira menstruação aos 13 anos. O fato de as dores se repetirem todo mês, não chamaram à atenção de nenhum especialista que consultei. Prescreviam “terapia”, diziam que se os exames não mostravam nada errado o meu corpo, concluíam que a causa provavelmente era emocional. Continuei a ouvir que eu era hipocondríaca e que ter cólica incapacitante era normal, coisa de mulher.
As descrições do que eu sentia no meu próprio corpo, não tinham valor de evidência, soavam como descartáveis subjetividades. Os discursos clínicos do tradicional paradigma biomédico anunciavam que eu não tinha qualquer autoridade para falar sobre mim. Eu realmente precisava ser ouvida, mas continuei sendo silenciada.
Essa é uma das razões pelas quais cursar Medicina ou Psicologia estava fora de cogitação. Eu não via sentido em adentrar em cursos, cujas pessoas que de lá saíram, diziam que eu mentia, inventava e dramatizava. Pouco também me encantava a ideia de estudar Pedagogia, apesar de adorar ser professora (atividade que iniciei aos 14 anos). Eu não concordava com escolas quadradas, de carteiras fixas, de movimento imóvel e de classificação rotulante. E no auge dos meus 17 anos (que na época era a minha vida inteira), eu descobri que na Unicamp tinha um curso de Educação Física que as ciências sociais e biológicas estavam em diálogo.
Ao adentrar na graduação eu já tinha no meu corpo uma coleção de marcas profundas, que de imediato enxergaram portas abertas na pesquisa fenomenológica e na interdisciplinaridade. Eu respondia provas em poesia, inventava trabalhos em formatos diversos, maquetes com locução (ainda na fase das fita k-7) como ainda, construir uma labirinto de 90m2 para a banca do meu TCC de licenciatura. Eu agradeço a Profa. Vilma Leni Nista-Piccolo pelas orientação acadêmica que me permitiu ousar e experimentar.
Em dezembro de 2000 defendi a minha dissertação de mestrado, a qual apontava a internet como uma possibilidade da aprendizagem para compreensão e a produção autoral de crianças e adolescentes. A partir desta produção que o prof Mauro Betti fez o convite para o comitê de CM do CBCE e para publicar capítulo de livro. Que marcou minha primeira produção.
Quantas coisas estão acontecendo ao redor que não estamos vendo? Quanta invisibilidade grita e ainda não enxergamos?
Eu tive muitas, literalmente muitas crises de dor intensa de 1990 até 2010, e foi somente após uma emergência cirúrgica, que a biopsia, enfim declarou o diagnóstico: endometriose. Dois anos depois passei por outra cirurgia de endometriose. Foram necessárias décadas para a comprovação científica das minhas palavras gritadas por anos a fio. Eu estava rasgada de exaustão e tive que escutar do médico que eu viveria com dor para o resto da vida e que a minha chance de engravidar era de 1%, eu me perguntei se era “isso” que a ciência do século XXI tinha para me oferecer.
Eu escolhi não aceitar aquela sentença, porque no doutorado eu tinha vivido uma experiência que me levou a acreditar em “possibilidades múltiplas”.
Volto então ao ano de 2003. Eu estava em Minas Gerais, num encontro com toda a equipe de uma escola especial. Perguntei se tinham escutado os/as estudantes sobre como eles/elas se sentiam na escola. A semana seguinte foi de registro das escutas. E quando assisti a gravação fiquei profundamente mexida. Porque um daqueles jovens dizia que “a escola deveria deixar expressar a arte?”. Quem era ele? Wagner Sales, 14 anos, estava há 5 anos na escola especial.
“Não consegue aprender ler e escrever, mas desenha muito bem”, respondeu a psicóloga. Eu pedi para conhecê-lo. Os desenhos eram cadernos inteiros, histórias autorais diversas. Diante dele exclamei o quanto era inteligente. A resposta crua veio numa pergunta: “então não sou débil mental? Eu sou normal?” – Na sequência, a mãe com angustias somadas, perguntou: “por que ele não aprende?”
O jovem e sua mãe foram comigo para um projeto que eu coordenava: “Letras de esperança”. Nas oficinas construidas com a comunidade, ele foi o desenhista dos heróis das crianças em uma das oficinas. Ao final do evento, fez um desenho ao vivo e foi aplaudido, mas não assinou a obra, ele não sabia escrever o próprio nome.
A escola enxergava o que nunca tinha sido tão visível: “Wagner escreve, desenhando”. Ele enxergou que escrevia e, em poucos meses, aprendeu. Voltou para a escola regular, terminou o fundamental e o ensino médio no EJA.
Eu tinha ido aquela escola, para compartilhar o que estudava sobre corporeidade, aprendizagem e múltiplas inteligências. Eu sai daquele encontro mobilizada. Mudei de tese de doutorado. Estamos em pleno no século XXI e ainda pautamos as nossas escolas numa ciência que avalia pessoas diversas num tempo cronometrado único, em caminhos que padronizam e excluem.
Todo mundo tem direito de aprender. Todo mundo tem direito a ter saúde. Seja nos processos de ensino-aprendizagem ou relação doença-saúde; não somos os dignósticos que nos anunciam. Eu não podia desistir de mim. E reagi ao decreto clínico com a escolha de pesquisar.
Nos anos de graduação até o doutorado eu tinha aprendido a “fazer ciência”, que essa deve ser afirmada e exercida para cuidar da vida. Se a medicina não me trazia respostas, eu podia analisar as pistas e juntar os cacos.
Em agosto de 2013, publiquei o livro sobre Endometriose e Maternidade, com minhas narrativas reais, com vozes de outras mulheres e contribuições multiprofissionais. Eu pari um projeto no mesmo mês que o meu bebê não sobreviveu para nascer.
Mulheres e Novelos não é história de uma única mulher. A endometriose afeta 1 a cada 10 mulheres. 7 milhões de mulheres no Brasil. 180 milhões no mundo. No setor privado ou público, há recorrentes casos de diagnóstico tardio, depois de pelo menos a mulher ter sido avaliada em sua intimidade, com o “toque” clínico de, em média, por 7 profissionais.
Um livro lido é uma publicação de impacto. E quando conheci uma outra professora universitária que dizia nunca ter falado a palavra endometriose e nunca ter sido orientada ao cuidado profissional para ter qualidade de vida, comecei imediatamente a criar conteúdos em vídeos no canal do YouTube para alertar que dor não é normal, para falar abertamente de tabus que envolvem a menstruação ou das confusas experiências de abusos no corpo feminino. Dr Leonardo Bezerra docente da UFC e da equipe médica da Maternidade Escola telefonou e disse: você pode fazer algo que a medicina não pode, venha conversar com as mulheres.
As ações se desdobraram, em 2017, iniciamos conversas nos corredores do hospital. Abrimos rodas de escuta e esclarecimento, promovemos oficinas de consciência corporal e firmamos um grupo de apoio no WhatsApp. Em 2019, um dos TCCs que orientei culminou no espetáculo “Um fio por vez”. Eu tinha encontrado saúde para voltar aos palcos, para dançar junto com os estudantes a saga da dor incapacitante e para gritar “escutem as mulheres”.
Convocamos a sociedade a conhecer a endometriose, porque precisamos encarar como o poder masculino e as tradições patriarcais operam nas políticas que mantém (ainda) tantas mulheres sem acesso aos tratamentos de saúde por direito. Promovemos com estas diversas ações, diagnósticos precoces entre estudantes, acolhimento humanizante para mulheres que lutavam sozinhas, ensinamos conhecimentos de auto-cuidado e direitos sociais, tecendo redes de partilha e aprendizado.
Meu adoecimento mudou vertiginosamente a minha trajetória acadêmica. A extensão tornou-se um laboratório intenso, porque as questões sobre as quais eu estava me debruçando tinham urgências gritantes. Dediquei-me a afirmar a ciência num exercício de cuidado de mim e cuidado com o outro. Foi um caminho com encontros e reencontros.
Todos os instantes, em qualquer sala de aula e além dela, eu buscava criar aberturas para a aprendizagem criativa, sensível e multimídia. Minha atuação docente na formação de professores de Educação Física foi muito marcada em saber que a dor existe, que ela precisa ser ouvida, que a diversidade e a individualidade precisam ser acolhidas e zeladas. Fabrício Leomar narra esses anos da minha “intra-ação” em sua dissertação e no documentário que ele batizou de “aquilo que a gente não sabia que podia ser”.
Eu sempre me vi diante daquele jovem que se alfabetizou aos 14 anos, que depois fez o curso técnico de informática, juntou dinheiro, para morar sozinho em outro estado e fazer faculdade de Licenciatura em Artes e Pós-Graduação em Arteterapia.
Em 2019, Wagner e eu, publicamos na Bienal Internacional do Livro, a obra de literatura infanto-juvenil, “O menino que desenhava o invisível”. Sou escritora e ele o ilustrador do livro inspirado em nossa história. Juntos acompanhamos as ações em diferentes municípios, no maior projeto de leitura do Ceará.
O livro termina com uma simbólica carta entre mãe e filho, que diferentemente das cartas médicas que cito no começo deste texto, a família não buscava comprovações que pudessem explicar os sintomas que a tal história genética não conseguia explicar. O que queremos da ciência é possa diluir as injustiças sociais e nos fazer avançar.
Neste instante, em que estamos aqui juntos, há solitárias mulheres invisíveis deitadas com cólicas incapacipantes, há crianças e adolescentes nas escolas, universidades e famílias que ainda esperam que sejam vistas por seu potenciais e não, simplesmente, por suas dificuldades.
A ciência para mim nunca esteve no formato que ela se imprime. Não é na rigidez das regras que reflito, contexto e mudo o mundo para melhor. Posso anunciar e denunciar pelo desenho, escultura, poesia, dança, fotografia, vídeo, em movimentos e gestos. Talvez o único formato que pode nos aprisionar, é se a gente se cala.
Estive num Conbrace pela primeira vez em 1995. Faltei apenas uma edição. Tenho um carinho imenso pelas pessoas que conheci neste coletivo, de forma mais direta e profunda, carregarei para vida inteira a minha gratidão pelas pessoas queridas que compõem o GTT 2 de Comunicação e Mídia. Agradeço por olharem para a minha trajetória com raro afeto e profundo respeito, considerando a minha história digna para uma das indicações do CBCE ao Prêmio Carolina Bori – Mulheres Cientistas da SBPC.
O Conbrace de 2021 ficará na minha pele como o encontro virtual mais presencial que pude experimentar.
Forte abraço, Tatiana Passos Zylberberg